
Caso reflete que a política nem sempre caminha de forma reta
Pedro do Coutto
A indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal, feita pelo presidente Lula da Silva, parecia destinada a seguir o percurso habitual de escolhas para a mais alta Corte do país: articulação discreta, envio da mensagem ao Senado e sabatina dentro do calendário institucional.
No entanto, esse processo aparentemente previsível rapidamente se converteu numa nova provação política, exposta ao calor da opinião pública e marcada por uma disputa de bastidores que evidencia as dificuldades de coordenação entre Executivo e Legislativo.
REAÇÃO – Davi Alcolumbre, presidente do Senado, reagiu de forma dura ao que considerou ser críticas veladas oriundas do Planalto e de seus aliados — críticas que, segundo ele, insinuavam que o Senado estaria criando obstáculos deliberados para forçar contrapartidas. A irritação cresceu quando o governo demorou a formalizar a indicação, alimentando a percepção de que havia uma tentativa de pressionar a Casa ou atribuir-lhe a responsabilidade por um eventual desgaste.
Nesse ambiente carregado, Gleisi Hoffmann saiu em defesa do governo, tentando desarmar o conflito ao negar qualquer negociação de cargos e enfatizar que a relação com o Senado deveria se pautar pela institucionalidade e pelo respeito mútuo.
Esse episódio, no entanto, transcende a disputa específica em torno do nome de Messias. Ele revela um jogo de forças que se repete em ciclos, sempre que decisões estratégicas tocam o coração das instituições republicanas. O Senado, cioso de seu papel como fiscalizador e última instância no processo de nomeação, reafirma sua autonomia sempre que percebe investidas do Executivo para acelerar ritos ou influenciar humores internos.
EQUILÍBRIO – O Planalto, por sua vez, precisa equilibrar a urgência política — afinal, uma cadeira no STF não é apenas uma escolha técnica, mas uma decisão com impacto direto na agenda do governo — com a necessidade de evitar a impressão de atropelo ou de ingerência excessiva. A tensão entre os Poderes costuma vir à superfície em momentos como este, quando cargos vitalícios e de grande relevância institucional estão em jogo.
E, em Brasília, onde cada gesto se transforma em sinal político e cada silêncio pode ser interpretado como recado, nada passa despercebido. A sabatina marcada para dezembro pode até encerrar o rito formal, mas o caso Messias já se consolidou como mais um capítulo emblemático de como, no Brasil, a política raramente caminha pela estrada reta: ela avança aos solavancos, em curvas, picos de tensão e momentos de distensão, refletindo sempre a complexa e delicada coreografia entre os Poderes da República.
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_59edd422c0c84a879bd37670ae4f538a/internal_photos/bs/2025/i/G/MaRvOBSiqUA4B464ItEg/2025-11-30t125856z-394326014-up1elbu102666-rtrmadp-3-soccer-libertadores-pal-fla-parade.jpg)
 Pedro do Coutto
Pedro do Coutto
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2025/g/W/MRBLbTTC6cWWACHOWi1A/bre11823.jpg)






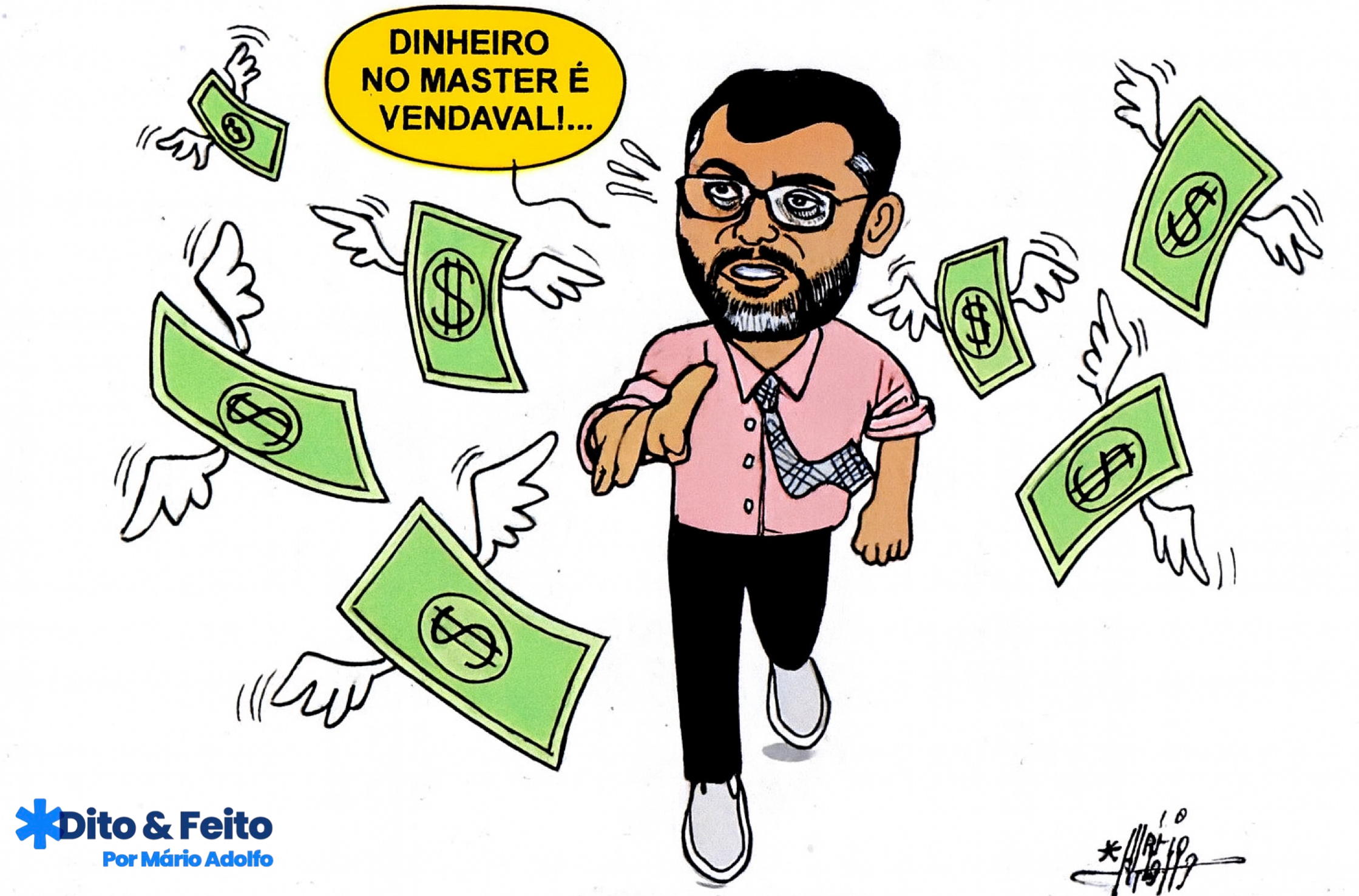


/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2025/P/e/N4QOBTREaZkOg5fxyGyw/header-jovens.jpg)
/i.s3.glbimg.com/v1/AUTH_da025474c0c44edd99332dddb09cabe8/internal_photos/bs/2025/k/X/Vr3KoVTPejotXLewHvrg/109996611-ri-rio-de-janeiro-rj-11-02-2025-presenca-do-trafico-se-aproxima-das-vias-expressas-com.jpg)



